Chegadas e partidas da ilha de Maracá, na costa do Amapá, são complexas. Só os barqueiros mais experientes sabem o momento de atracar neste espaço de terra no Atlântico, influenciado por marés que sobem e descem até 12 metros duas vezes ao dia.
Eram 22h quando a reportagem se aproximou da margem, cruzando o igarapé Inferno, acompanhando servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A ilha é uma unidade de proteção integral, chamada de Estação Ecológica Maracá-Jipioca.
O trajeto naquela noite passaria pelo igarapé Purgatório. A expectativa era avistar os únicos moradores carnívoros permanentes da ilha: onças pintadas. Na escuridão, os olhos de coruja, jacaré e arapapá refletiam a luz da lanterna lançada na mata. Na água, algas bioluminescentes brilhavam como um pisca-pisca quando encontravam o casco do barco.
A ilha localizada na bacia marítima da Foz do Amazonas tem uma das maiores concentrações de onça pintada do mundo. Cerca de 175 quilômetros mar adentro, a indústria do petróleo aguarda liberação para abrir uma nova fronteira de exploração.
A situação preocupa quem vive, cuida e pesquisa a região, que tem as correntes marítimas mais fortes do país. Ainda não se sabe, por exemplo, qual seria o impacto na costa amazônica em caso de um vazamento de petróleo.
"Não existem estudos suficientes, nem embarcação apropriada. Um derramamento coincidindo com a maré cheia vai atingir os manguezais, os lagos, os campos inundados, seria impossível retirar este óleo", diz Iranildo da Silva Coutinho, analista ambiental do ICMBio e chefe da Estação Ecológica Maracá-Jipioca.
Medo do impacto
O pedido para perfurar poços de petróleo na bacia marítima da Foz do Amazonas, também chamada de Margem Equatorial, está em análise. A brasileira Petrobrás tenta destravar a licença junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), depois da última negativa que recebeu, em maio de 2023.
O plano da petroleira prevê um investimento de 3,1 bilhões de dólares na região até 2028 e abertura de 16 poços - a começar pelo o FZA-M-59. Em 2018, a francesa Total, que também estava na corrida, desistiu da empreitada após a negativa do Ibama, na sequência da descoberta de um recife de corais até então desconhecido pela ciência.
Em Oiapoque, o município mais ao Norte do país, Luene Karipuna é a principal fonte de informação para seu povo sobre todo esse processo. Os moradores da Terra Indígena Juminá são os que estão mais próximos do bloco 59, a cerca de 140 a 150 quilômetros de distância do projeto.
"Há pouca informação. A propaganda diz que o empreendimento seria a salvação para todos os problemas, mas a gente não acredita. Temos medo de como seremos impactados, isso traz muita traz insegurança e dúvida para o território e para nossa costa", diz Luene à DW, às margens do rio Flexal, na cidade de Amapá, base para acessar a ilha de Maracá.
Um mergulho no desconhecido
Luene acabara de desembarcar de uma expedição pela costa quando conversou com a DW. Ela passou dias a bordo do veleiro Witness, do Greenpeace, que navega por pontos estratégicos colhendo dados científicos e depoimentos dos moradores sobre esta região ainda desconhecida.
Luís Roberto Takiyama, pesquisador do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa) também passou dias embarcado. Para investigar as correntes marítimas da região, ele soltou derivadores no mar, ou seja, boias de 20 centímetros que ficam na superfície e simulam a dispersão de poluentes.
"Já se sabe que há a possibilidade de um vazamento de petróleo chegar na costa. A ilha de Maracá, que é isolada, recebe muito lixo que vem do mundo todo, trazidos pelos ventos e correntes. Temos muita preocupação com esta área costeira, que tem as maiores marés do Brasil e a maior área contínua de manguezal do mundo", explica Takiyama. "Nossa intenção é contribuir para aumentar o conhecimento", adiciona.
A geóloga Valdenira Ferreira dos Santos foi uma das primeiras a apontar a alta sensibilidade da costa amazônica ao derramamento de petróleo. Em 2011, ela coordenou um esforço para localizar as áreas ecologicamente sensíveis à poluição num projeto chamado de Cartas de Sensibilidade a Derramamentos de Óleo (Cartas SAO).
"A costa é baixa, tem o cinturão de mangue e é marcada pela macromaré. A sensibilidade é alta não só no Amapá, mas em toda a costa da foz do Amazonas. Isso significa que, se o petróleo chegar ali, é quase impossível de limpar", afirma Santos.
O perigo de um desastre, diz a geóloga, já ronda a região antes mesmo da abertura dos poços. É que o tráfego de embarcações transportando petróleo já é intenso. "O risco é real e não estamos prestando atenção. Com uma possível exploração, o tráfego de navios vai aumentar ainda mais. Não há planos de contingência para a região em caso de vazamento", alerta Santos. "A gente teve muito medo de aquele vazamento que aconteceu na costa do Nordeste em 2019 chegar aqui", revela.
O que diz a Petrobrás
A Petrobras, no entanto, afastou o risco de vazamentos caso a exploração do poço 59 seja autorizada pelo Ibama. "Hoje, com todo o sistema de segurança operacional, com todos os procedimentos operacionais, com todos os equipamentos que são o estado da arte para a perfuração de poços, a probabilidade de termos vazamento que gere dano ambiental é remotíssima", afirmou a gerente de Licenciamento e Meio Ambiente da Petrobras, Daniela Lomba, à DW.
Neste momento do projeto, afirma a Petrobras, os povos indígenas que moram na costa não serão consultados. O projeto em análise pelo Ibama, diz Lomba, trata da perfuração de poço em fase de pesquisa exploratória, para avaliar se existe ou não petróleo ou gás.
"Quando a gente olha as características do nosso projeto, que é a perfuração de um poço distante da costa em que a gente não está trazendo nenhuma infraestrutura nova, como porto ou aeroporto, não se aplica consulta prévia aos povos indígenas", diz Lomba. A Petrobras alega que o momento adequado para a consulta prévia às comunidades sobre a atividade seria após as descobertas de óleo e gás, na fase de desenvolvimento da produção, caso a atividade traga impactos diretos.
A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) prevê que povos indígenas e comunidades tradicionais sejam consultados sempre que alguma obra, ação, política ou programa afete essas populações - independentemente de se tratar de iniciativa pública ou privada. É a chamada consulta livre, prévia e informada, adotada no país na forma do decreto 10.088, de 05 de novembro de 2009.
Em 2015, uma portaria interministerial estabeleceu que a necessidade da consulta prévia tem que ser apresentada no momento inicial do processo de licenciamento ambiental pelos órgãos que emitem a licença, o que não foi o caso no processo atual. Consultado, o Ibama não respondeu até o fechamento desta reportagem.
Estudo falho
O oceanógrafo Nils Edvin Asp Neto, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), passou quase um ano decifrando as cerca de 5 mil páginas referentes ao Estudo de Impacto Ambiental que a Petrobras apresentou ao Ibama. A empresa brasileira "herdou" o estudo da britânica BP, que havia pedido anteriormente autorização para explorar o mesmo bloco 59.
"O estudo de impacto ambiental, e mesmo o atual conhecimento científico da região, é bastante limitado. A simulação de eventuais vazamentos feita diz que o petróleo não chegaria na costa, mas com a ação das ondas e fortes marés na região isso é possível e até mesmo provável", diz Asp.
Segundo a avaliação técnica do especialista, essa falha é suficiente para o veto ao licenciamento. "Quando se diz que o petróleo não chega na costa, a empresa não precisa, por exemplo, oferecer planos de contingência para os ecossistemas daquela região em caso de vazamento", explica o oceanógrafo.
O consenso entre os pesquisadores que atuam no Norte do país é que há muitas lacunas de conhecimento sobre a costa amazônica. O financiamento de pesquisas nesta parte do país é baixo. Ciente desta brecha, a Petrobras, ao mesmo tempo em que busca autorização para extrair petróleo, planeja uma série de editais para patrocinar pesquisas científicas.
"Petróleo não combina com a Amazônia"
O veleiro Witness, do Greenpeace, também quer contribuir para a coleta de dados científicos sobre as correntes oceânicas superficiais. A organização, fundada em 1971, não aceita dinheiro de empresas e se financia com doações de pessoas físicas.
"Estamos num momento de transição energética, devemos investir em energias renováveis. É um contrassenso o presidente Lula assumir esse discurso nas conferências do clima e, ao mesmo tempo, apoiar um projeto de exploração de petróleo numa região tão sensível como essa", pontua Enrico Marone, porta-voz de oceanos do Greenpeace, a bordo do veleiro.
Iranildo da Silva Coutinho, chefe da Estação Ecológica Maracá-Jipioca, defende que a área seja melhor conhecida antes de qualquer passo. "É preciso saber os valores que ela tem: sentimental, ecológico, econômico. Temos que entender como funcionam os serviços ambientais e como eles podem ser valorados e trazer benefícios para a região sem necessariamente gerar o efeito drástico que a exploração de petróleo pode trazer", diz.
Loene Karipuna diz saber que muitos são a favor da chegada da indústria petroleira na região com a expectativa de que haverá emprego e mais dinheiro circulando. Mas para ela e seu povo, o petróleo não é bem-vindo.
"O petróleo não combina com o nosso modo de vida, com a biodiversidade, não combina com tudo o que vem acontecendo no Brasil e no mundo em relação às mudanças climáticas", explica a sua oposição, lembrando que a queima de combustível fóssil é a principal fonte de gases de efeito estufa, que aquecem o planeta e aceleram as mudanças climáticas.
*A repórter embarcou a bordo do Witness a convite do Greenpeace.



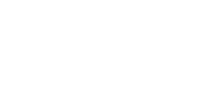



-1h7fuvlnmzwbn.jpeg)




