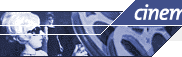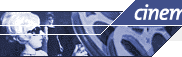Não é simples tocar no assunto Glauber Rocha com seu filho Eryk, nascido há 24 anos de um relacionamento do diretor com a cineasta colombiana Paula Gaitan. Eryk é Glauber da cabeça aos pés, mas isto não deve ser mencionado diante dele para valorar seu trabalho como cineasta.A razão pende para o jovem diretor. Quando Glauber morreu, aos 43 anos, em 1981, Eryk tinha três, e sua construção de um discurso cinematográfico passou pela visão de videoarte desenvolvida pela mãe, mais do que propriamente pela fundadora, do pai.
Os textos de Glauber capturaram Eryk antes de seus filmes. Ele é Glauber de uma maneira diferente. Em entrevista realizada em São Paulo por ocasião do lançamento de seu filme de estréia, o documentário Rocha que Voa, em uma sala do Espaço Unibanco na cidade, quem fala é um homem articulado, seguro de seu filme a ponto de lhe colocar a marca de autenticidade e coragem, num espelho da qualificação sem constrangimento que o diretor de A Idade da Terra fazia do próprio trabalho.
Um homem que, mais do que um primeiro filme, pretendeu, em outra atitude à moda paterna, a um manifesto contra a alegada estagnação cinematográfica brasileira.
Eryk sabe por que filma. Para, intencionalmente, unir seus contemporâneos latinos a um discurso desintegrador do que ele enxerga como "hegemonia fílmica".
Este trabalho de Eryk, estreado no Rio em 16 de agosto, percorreu, com alguma repercussão, festivais internacionais importantes como o de Montreal e foi declarado vencedor brasileiro do festival de documentários É Tudo Verdade, em São Paulo, em abril. No Rio, onde permanece em cartaz também em uma única sala, conseguiu, até agora, um público em torno de quatro mil pessoas.
Com seus co-realizadores, companheiros da escola de cinema de San Antonio de Los Baños - o fotógrafo uruguaio/francês Miguel Vasilskis e o roteirista, montador e desenhista de som brasileiro Bruno Vasconcelos -, Eryk contrapôs duas entrevistas de Glauber, feitas à rádio cubana entre 1971 e 1972, a imagens da vida no país, variados filmes do diretor (como o quase inédito História do Brasil) e depoimentos dos cineastas, amigos e a namorada Maria Teresa Sopeña, com quem conviveu no exílio cubano, aos 33 anos.
Sua criação visual, depois de dois anos e meio de trabalho, é impactante. No site do filme (www.martim21.com.br/rochaquevoa), Eryk disse buscar, em imagens desfocadas, o que obteve o pintor inglês J. M. W. Turner no quadro Tempestade de Neve, composto em 1842 depois de o artista ter passado quatro horas agarrado ao mastro de um navio, contemplando águas revoltosas.
A seguir, trechos da entrevista que Eryk Rocha deu a este jornal, acompanhado de seu diretor de fotografia Miguel Vasilskis.
Rocha que Voa opera com a limpeza da fala de Glauber e um discurso visual nítido, propositadamente embaçado. Como você chegou a este formato?
Eryk Rocha - As gravações das entrevistas de Glauber à rádio cubana só foram inseridas no filme depois da montagem, no Rio. No início, a idéia era fazer um filme biográfico, anedótico, realista, ligado ao cinema-verdade. Felizmente, isto não ocorreu. O novo formato apareceu em meu retorno ao Brasil, depois de seis anos entre Venezuela, Colômbia e Cuba. Percebi o abismo do Brasil em relação ao continente, e vice-versa. O filme funciona como um grão de arroz na tentativa de reconstruir o diálogo latino-americano. Fizemos o que queríamos com a linguagem do filme. Não concedemos.
Em Rocha que Voa você busca a imagem de seu pai, mas não só. Glauber contestou o cinema tradicional e você condena a tendência de filmar a partir de padrões americanos e televisivos.
Rocha - Rocha que Voa veio para desorganizar, para abrir um debate estético e cultural sobre o papel do cinema. É uma busca pelo pai, mas também pelo país, por minha identidade latino-americana. Murilo Mendes diz que a memória é uma construção do futuro, e o filme caminha nesta direção. Há nele a memória particular, do meu pai, a coletiva, do continente latino-americano, e a cinematográfica, do Cinema Novo, uma referência importante com a qual temos de dialogar. Na montagem do filme e na montagem interna dos planos, há uma sobreposição de memórias. O filme traz a imagem concreta, de arquivo, dos anos 60, e a abstrata, imprecisa, que é minha, porque eu não vivi aquela época. Perdeu-se no cinema o olhar do autor, que potencializa o conteúdo do filme. Rocha que Voa é um trabalho pessoal.
Seu filme sugere que a fala de Glauber, de 30 anos, vale hoje. A integração latino-americana, como ele pregava, não ocorreu. E o cinema, como linguagem, abraçou a popularização que o empobrece.
Rocha - Preocupado em conquistar o grande público, o cinema se aproximou demais da linguagem da televisão. Os atores viraram globais - eles são "marcas" para que o filme tenha público e capte dinheiro. Mas eu acredito no cinema como um espaço sagrado de reflexão, uma atividade que não pode se banalizar, um patrimônio público. Não devemos fazer o que a televisão faz, porque ela é um outro meio, tem um outro valor. Muitos dos filmes feitos hoje são televisões ampliadas. O problema não é o cinema comercial, ele sempre vai existir e é importante para a indústria. O problema é a ausência de espaços para o cinema experimental. Hélio Oiticica dizia, num texto que parece escrito hoje, que "experimental" é a condição do Brasil. Atualmente há uma quantidade de filmes bem acabados, de excelente patamar técnico, com os quais nós não podemos nos contentar. Sem conflito, sem debate, o cinema não evolui. Buscar este debate é o desafio da minha geração.
Quem faz cinema experimental no Brasil?
Rocha - Poucos. O Sertão das Memórias, ficção de José Araújo, é um filme belíssimo neste sentido, assim como O Fim do Sem Fim, documentário de Lucas Bambozzi, Belo Magalhães e Cao Guimarães, longa em 35mm que nem chegou ao circuito. Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando Carvalho, é audaz. O Invasor, de Beto Brant, concilia o modelo clássico de narrativa com uma história ágil, contemporânea - e desloca o bandido do gueto, enquanto há um subcinema, uma subvertente dentro do cinema hegemônico, que se glorifica estetizando a miséria e a pobreza, promovendo um exotismo da violência (não vou citar um filme em particular). O cinema-verdade, tanto no documentário quanto na ficção, é hegemônico, representa o pensamento único da globalização. Dizem que o cinema autoral, de pensamento, não dá público. É mentira. O público não vê este cinema porque ele não chega até o público. O Brasil é um país diverso e precisa ter uma diversidade de filmes.
Miguel Vasilskis - É assustador ver como o cinema vai ficando padronizado no país. Os diretores acham que, apostando na linguagem comercial, vão conseguir um mercado. O mercado no Brasil não existe ou é insignificante em relação ao número de habitantes. O Brasil é o império da Rede Globo e das televisões. Ir para o mercado externo também não dá: das dez obras filmadas no mundo, nove ficam no armário. Se é para fazer o que é feito melhor em outros países, nós sempre vamos ficar para trás.
Ao retornar de Havana, como você percebeu as diferenças entre o que se produz lá e aqui?
Rocha - Cuba chegou a produzir 15 filmes por ano. Hoje, depois da queda do bloco do campo socialista, são dois, ainda assim em co-produção com a Espanha. Os cubanos discutem cinema, e fazem isto em meu filme, porque têm uma tradição cinematográfica rica. No Brasil, pelo contrário, a produção cinematográfica se tornou grande, mas mecânica. Filma-se de forma compulsiva, sem se perguntar por quê.
Este embaçamento utilizado como recurso visual no filme não parece ser algo tão estranho assim. Mesmo a MTV exibe
videoclips em que a imagem do cantor aparece desfocada em primeiro plano. Vocês identificam um movimento de absorção de suas idéias?
Vasilskis - O processo de criação visual do filme partiu de uma idéia do Eryk, de tornar a imagem do ano 2000 semelhante à dos anos 60. Entrou aí o uso da película em preto e branco granulada, já com o fungo incluído no nosso filme, vencido. Esta foi a maneira que encontramos para transpor a idéia de Eryk, mas, também, o recurso que tínhamos para trabalhar. A melhor maneira de anular um movimento não é combatê-lo, é absorvê-lo. A plástica sem sentido é só a plástica, é a cosmética das idéias.
Rocha - Nós incorporamos as limitações técnicas, os acasos, ao filme. Nossa película em preto e branco é vencida. Mas a grande pergunta que o filme suscita é: estas idéias estão vencidas? Há desfocados e desfocados. A técnica desfocada, abstrata, de Rocha que Voa, funda-se num projeto estético, de modo a potencializar o assunto do filme. Trabalhamos com tudo, 16mm, betacam, high-8, digital, material de arquivo em 35mm telecinado. Não cremos no diretorzinho que vem com monitorzinho para filmar. O documentário pede um cineasta do corpo. Tem de sentir a parada lá. Fizemos um roteiro de 50 situações e nos propusemos o ritual de filmar as seqüências, porque os cineastas estavam morrendo, como todos morrem, a arquitetura ruía, a cidade de Havana estava acabando.
Quais são os seus novos projetos?
Vou trabalhar sobre a obra da documentarista cubana Sara Gómez no ano que vem. Mas, na próxima semana, iniciamos no Rio um documentário sobre o imaginário político brasileiro. Entendemos o Rio como o Brasil porque a cidade tem esta tradição de antiga capital federal e porque ela é o que os recursos nos possibilitam. A idéia é fazer um contraponto à visão oficial dos candidatos à presidência. Não vamos entrevistá-los. O filme vai partir do pressuposto de que o Brasil percebe a necessidade de mudança e, ao mesmo tempo, é indiferente diante da mudança que a política oferecerá. Faremos pesquisa formal, poética, estética, em busca da forma visual. Quero continuar trabalhando com texturas, com diferentes qualidades de imagem.
Veja também:
» Rocha que Voa tem pulsão modificadora