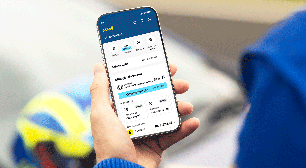"Boa de parir", "aguenta mais a dor": o racismo obstétrico no Brasil
Dados dos últimos anos apontam que o preconceito impacta desde o planejamento reprodutivo até o parto e puerpério da mulher negra no país
Mulheres pretas têm quadris mais largos e, por isso, são parideiras por excelência. Mulheres pretas são mais fortes e mais resistentes à dor. Ideias equivocadas como essas parecem extraídas de algum manual de Medicina obsoleto de tempos passados, mas ainda pairam em hospitais e maternidades de todo o Brasil. E as consequências – desastrosas, traumáticas e, na pior das hipóteses, mortais – têm nome: racismo obstétrico.
Em pleno 2023, quando o conceito de parto humanizado é tido como um direito de toda e qualquer gestante, o racismo obstétrico atinge milhões de mulheres no país ao seguir preceitos do chamado racismo científico (ou biológico). Trata-se de uma corrente de teorias que surgiram no século XIX - e que mais tarde se mostraram infundadas e sem respaldo - usadas para estabelecer hierarquias raciais com base em características físicas, como cor da pele, formato do crânio e outras qualidades fenotípicas.
Essa hierarquização servia para justificar a dominação e as condições subalternas a que eram submetidos os povos negros - por serem fortes, podiam aguentar qualquer coisa. A interseccionalidade de gênero e o machismo típico de uma sociedade ainda movida pelo patriarcado culminou no racismo obstétrico.
O trabalho mais emblemático já feito no Brasil a respeito do tema foi feito em 2017 e até hoje serve de referência: o artigo "A cor da dor: iniquidades raciais na atenção pré-natal e ao parto no Brasil", feito pela pesquisadora Maria do Carmo Leal, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e sua equipe.
Conceitos históricos e acadêmicos à parte, o levantamento conduzido Maria do Carmo concluiu que existe mesmo um pior atendimento às mulheres negras durante a gestação e o parto.
Para isso, o grupo analisou o recorte de raça e cor dos dados de uma ampla pesquisa nacional sobre partos e nascimentos, a “Nascer no Brasil”, realizada com prontuários médicos de 23.894 mulheres coletados entre 2011 e 2012.
Os resultados mostraram que, apesar de sofrerem menos episiotomias em comparação às brancas, mulheres negras tinham 50% de chances a menos de receber anestesia durante o procedimento.
A pesquisa levantou ainda que mulheres negras possuem maior risco de ter um pré-natal inadequado, realizando menos consultas do que as indicadas pelo Ministério da Saúde; têm maior peregrinação entre maternidades, buscando mais de um hospital no momento de internação para o parto, e frequentemente estão sozinhas, com ausência de acompanhante durante o parto.
Impaciência e negligência
O racismo estrutural se reflete no tratamento concedido por ginecologistas, obstetras, enfermeiras e anestesiologistas, que denotam menor paciência e cuidado diante de reclamações de dor ou solicitações de anestesia.
"Há relatos de situações em que é necessária uma intervenção médica maior para salvar aquela vida, mas médicos não intervêm porque acreditam que as mulheres negras aguentam mais a dor, são boas de parir. O racismo obstétrico não é algo subjetivo. Além dos casos, os dados dos últimos anos revelam esse comportamento. As barreiras institucionais causadas pelo racismo impactam no cuidado ofertado em todo ciclo gravídico puerperal, desde o planejamento sexual e reprodutivo, refletem até no pré-natal, no parto e no puerpério das mulheres negras e, também, das indígenas", comenta Laura Sito, 1ª deputada estadual (PT) do Rio Grande do Sul negra, e presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH) do mesmo estado.
Em julho, ela promoveu o debate "Violência Obstétrica e Racismo Obstétrico: A Importância de Garantir uma Assistência de Qualidade" na Assembleia Legislativa/RS e alertou sobre como a questão está arraigada na sociedade. "O racismo obstétrico é uma continuidade da forma que olhamos e tratamos pessoas negras. As instituições de ensino e saúde, por exemplo, também refletem esse comportamento discriminatório. Se a desigualdade racial é uma categoria da sociedade, as instituições podem, sim, materializar o racismo institucional com normas, padrões e técnicas de controle", observa.
É importante destacar que cada mulher vai sofrer de forma diferente e as consequências serão sentidas de formas diferentes. "Mas o racismo expõe a população negra à ausência de igualdade. Já as mulheres negras, historicamente, têm sua humanidade deslegitimada, seja qual for o cenário que elas estão inseridas. É justamente esse preconceito velado que cria um imaginário da 'mulher negra forte', que por vezes objetifica e culpabiliza essas mulheres por erros médicos, por exemplo", fala Laura.
O “gritou muito e atrapalhou o procedimento” é uma expressão que demonstra isso e pode desencadear traumas para o resto da vida, além de possíveis consequências graves na saúde da mulher como infecções, hemorragias e fortes dores após o nascimento dos seus filhos. Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é a equidade, portanto, quando a mulher tem a expectativa de que está em “boas mãos” e sofre do início ao fim do seu parto é um baque gigante que impacta até mesmo a sua próxima gestação.
Aborto em foco
Outro ponto que demonstra um atendimento amparado pelo racismo institucional é a criminalização de mulheres negras quando o tema é aborto. Há diferentes casos em que um aborto espontâneo é atendido com desconfiança pelas equipes de saúde.
Assim, mulheres negras evitam ou adiam a procura por atendimentos especializados porque já entendem que essas diferenças de acesso vão dificultar a plenitude da sua consulta médica. Isso acontece apesar da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra defendida pelo SUS.
Essa percepção é amparada por números. Conforme dados da Pesquisa Nacional de Aborto dos anos de 2016, 2019 e 2021, a probabilidade de uma mulher negra fazer aborto é de 11,03%, enquanto entre brancas é de 7,55%. O estudo também demonstrou que a possibilidade de fazer um aborto cresce com a idade e a disparidade racial persiste. Mulheres negras de 40 anos têm 21,22% de probabilidade de realizar o procedimento, ao passo que para as brancas é de 15,35%.
Para Emanuelle Góes, coautora do estudo e doutora em Saúde Pública da Fiocruz, os índices refletem o racismo obstétrico, que afasta mulheres negras de atendimento no pré-Natal ou pós-aborto. "Além disso, elas têm menos acesso a métodos anticoncepcionais e estão mais sujeitas à violência sexual", ressalta.
Conforme as pesquisas, metade das mulheres que fazem aborto tinha menos de 19 anos na época - ou seja, muitas foram vítimas de violência sexual e, sem conseguir o acesso ao aborto legal, acabaram recorrendo ao clandestino. Com isso, se tornam as principais em internação hospitalar para finalizar o aborto - com o racismo e o sexismo, acabam sofrendo muito mais preconceito em hospitais.
"As mulheres negras são mais criminalizadas quando procuram o serviço de saúde para finalizar o aborto porque têm a sua imagem desvinculada da maternidade. Elas estão associadas à hipersexualização, sendo a gravidez vista como um descuido e não uma escolha. E isso é refletido nos serviços de saúde, nas práticas de cuidado e atenção que são revertidas por meio do racismo institucional na intersecção com a violência obstétrica", comenta Emanuelle.
Formação médica exige atenção
Para a pesquisadora, o combate ao racismo obstétrico passa pela formação da classe médica, sobretudo em estágios e residências. "Os livros não ensinam a diferenciar pacientes brancas e pretas. É na prática, no dia dia, que o racismo dá as caras, ainda que seja de forma implícita".
Mariana Ferreira, ginecologista e obstetra negra, à frente do Desconsultório, no Rio de Janeiro (RJ), endossa o ponto de vista de Emanuelle e salienta que a maioria dos médicos da área de ginecologia e obstetrícia são homens e brancos. "Essas especialidades são machistas. E como as questões das mulheres negras não os atingem, é improvável que se preocupem em mudar esse cenário", diz ela, que cita ainda o difícil acesso da população negra às faculdades de Medicina como mais um entrave. O Desconsultório de Mariana visa oferecer novas formas de cuidados às mulheres, sobretudo as pretas.
Para Laura Sito, não se pode ignorar que a mortalidade materna evitável é o dado que mais assusta, já que cerca de 90% dos casos no Brasil poderiam ser evitados e a maioria ocorre com mulheres negras, principalmente entre aquelas que vivem em situação de pobreza, são da periferia ou de zonas rurais, sem esquecer das mais jovens.
"Vemos casos de abuso médico, dores intencionalmente, coerção e agressões verbais dentro dos blocos de cirurgia, mas o pior é quando uma mulher negra morreu sem ter acesso a um atendimento mais especializado, deixando evidente que assistência médica falhou no atendimento dessa mulher. Isso nos mostra que as condições ruins dentro dos processos do sistema de saúde também fazem parte desse racismo obstétrico", lamenta.
Vale destacar, segundo Laura, que na Assembleia gaúcha tramita um projeto de lei para estabelecer o Dia Estadual contra a Mortalidade Materna, um importante passo para reconhecer e enfrentar as causas de uma morte muitas vezes evitável, mas que teve um significativo aumento na pandemia, e que também está muito relacionada com as desigualdades sociais.






-t86tze0o2cs2.jpg)




-s4p20ubsvtx5.jpg)